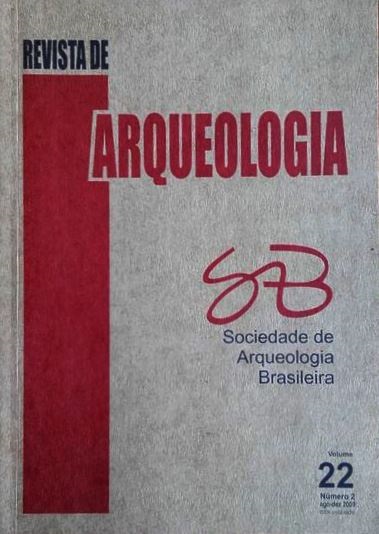Tirando do pó
Uma introdução metodológica sobre o tratamento de remanescentes ósseos humanos de origem arqueológica
Palavras-chave:
Bioantropologia, conservação, curadoriaResumo
Este artigo apresenta uma síntese de metodologias utilizadas para o trabalho técnico de curadoria preventiva com material esqueletal humano de proveniência arqueológica, tendo como objetivo a conservação, restauração e análise macroscópica preliminar, durante o trabalho de campo e em laboratório. É mostrado um esquema prático para quem desempenha a curadoria em restos esqueletais, trazendo como indicativos fatores determinantes que apontam para o modo de proceder, com um conjunto de técnicas e métodos de tratamento e posterior manipulação dos remanescentes ósseos coletados. Conservar o material e obter informações básicas, em um primeiro momento, aumenta a qualidade das informações que poderão ser disponibilizadas para melhor aproveitamento em futuras pesquisas. Considerando que existe um grande acúmulo de material arqueológico nas reservas técnicas e/ou museus onde a falta de curadores e de uso de técnicas inadequadas leva a perda de informações sobre os remanescentes ósseos e seu contexto, os procedimentos técnicos de curadoria aqui apresentados contribuirão para reduzira urgência de curadorias posteriores. Especialmente na Amazônia, a conservação e a identificação básica dos materiais osteológicos humanos de origem arqueológica se fazem extremamente necessárias pelo pouco conhecimento da pré-história da região do ponto de vista osteobiográfico. Garantir a conservação desses espécimes poderá levar a estudos futuros mais aprofundados e, consequentemente, mais confiáveis acerca da biologia esqueletal e da ecologia das populações do passado. Na organização dessas informações procurou- se integrar os métodos adotados por estudos de antropologia biológica e arqueologia.
Downloads
Referências
BERDUCON, M. C. 1990. La Conservation en Archéologie. Méthodes et Pratique de la Conservation - Restauration des Vestiges Archéologiques. Paris, Masson.
BEZERRA, I. M. A. 1992. Tratamento de esqueletos pré-históricos no laboratório de antropometria da UNESA. Comunicação apresentada na I Reunião Científica da Sociedade Brasileira de Paleopatologia, Rio de Janeiro.
BINFORD, L. R. 1968. Post Pleistocene adaptations. In: BINFORD, S. R. & BINFORD, L. R. (eds.). News Perspectives in Archaeology. Chicago, Aldine, pp 313-341.
BITELLI, L. M. (coord). 2002. Arqueologia: Restauración y Conservación. Región de Emilia-Romaña, Nerea.
BROTHWELL, D. R. 1981. Digging Up Bones: The Excavation, Treatment and Study of Human Skeletal Remains. New York, Cornell University Press.
BUIKSTRA, J. E. & BECK, L. A. 2006. Bioarchaeology: The Contextual Analysis of Human Remains. Boston, Academic Press.
BUIKSTRA, J. E. & UBELAKER, D. H. (eds.), 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Fayetteville, Arkansas Archaeological Survey, Research Series n° 44.
BYERS, S. N. 2007. Introduction to Forensic Anthropology. Boston, Allyn & Bacon.
CHRISTENSON, A. L. 1979. Cultural resource management: the role of museums in cultural resource management. American Antiquity, 44 (1):161-163.
DE GÜICHEN, G. 1984. Objeto enterrado, objeto desenterrado. In: La Conservación en Excavaciones Arqueológicas. Roma, ICCROM, pp. 33-58.
EGGERS, S.; FAZZIO, I. & LAHR, M. M.1996. Antropologia biológica do sítio arqueológico Água Vermelha: resultados e discussões preliminares. Revista de Arqueologia, 9:89-114.
FOLEY, K. 1987. El papel del conservador de objetos en la arqueologia de campo. In: La Conservación en Excavaciones Arqueológicas: Con Particular Referencia al Area del Mediterráneo. Madrid, Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Stanley Price, pp. 23-31.
FUGASSA, M. H. & GUICHÓN, R. A. 2005. Análisis paleoparasitológico de coprólitos hallados em sitios arqueológicos de Patagonia Austral: definiciones y perpectivas. Magallania, Punta Arenas, 33(2):13-19.
FUNARI, P. P.A & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. M. 2008. Ética, capitalismo e arqueologia pública no Brasil. História [online], 27 (2):13-30.
GONÇALVES, M. L. C. 2002. Helmintos, Protozoários e Algumas Idéias: Novas Perspectivas na Paleoparasitologia. Tese Doutorado. Rio de Janeiro, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca.
IBAÑEZ, C. F. 1990. Guías de Campo para la Recuperación y Conservación del Material Arqueológico “In Situ”. Madrid, Tórculo Edicións .
KATZENBERG, M. A. & SAUNDERS, S. R. 2000. Biological Anthropology of the Human Skeleton. New York, Wiley-Liss.
LAPLANTINE, F. 2007. Aprender Antropologia. São Paulo, Brasiliense.
LEWIN, R. 1999. Evolução Humana. São Paulo, Ateneu.
LORÊDO, W. M. 1994. Manual de Conservação em Arqueologia de Campo. Rio de Janeiro, Série Técnica.
MARCONI, M. A. & PRESOTTO, Z. M. N. 2007. Antropologia: Uma Introdução. São Paulo, Atlas.
MARINHO, A. N. R. 2004. Análise do mtDNA e Comparação com o Padrão de Preservação em Restos Esqueléticos dos Sambaquis de Moa e Beirada, Saquarema (RJ). Monografia apresentada no Curso de Especialização em Paleopatologia da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ), Rio de Janeiro.
MCGIMSEY III, C. R. & DAVIS, H. A. (editors). 1977. The Management of Archeological Resources: The Airlie House Report. Washington, Special Publications of the Society for American Archaeology.
MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES COUNCIL. 2005. Conservação de Coleções – Museologia (Roteiros Práticos, 9). São Paulo, Edusp.
MCMA (Ministère de la Culture et l’Environement, France). 1978. Preservação e Segurança nos Museus. Rio de Janeiro, ICOM.
NEVES, W. A. 1988. Uma proposta pragmática para cura e recuperação de coleções de esqueletos humanos de origem arqueológica. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi-Zoologia, Belém, v. 4:3-26.
PEARSON, M. P. 2002. The Archaeology of the Death and Burial . Texas, University Press A&M.
PROUS, A. Arqueologia Brasileira. 1992. Brasília, Editora da UNB.
SCHAAN, D. P. 2006. Relatório Final – Projeto Corpo e Sociedade: Bioarqueologia e Rituais Funerários na Fase Marajoara. Relatório de Pesquisa. Belém, MPEG.
SILVA, C. M. da. 2008. Temas de Paleontologia: Icnofóssil. Disponívelem http://webpages.fc.ul.pt/~cmsilva/Paleotemas/Indexpal.htm (acesso em: 21/06/2008).
SILVA, E. C.; LESSA, A.; TUMA, I. M.; MENDONÇA DE SOUZA, S. & SANTOS, R. V. 1996. Acervo de remanescentes ósseos humanos do Museu Nacional, Rio de Janeiro: análise de sua constituição histórica e atividades de curadoria em curso. Comunicação apresentada no IV Congreso de La Asociacion LatinoAmericana de Antropologia Biológica Y Segundas Jornadas Nacionales de Antropologia Biológica, Buenos Aires.
SOUZA, S. M. F. M. DE; CARVALHO, D. M. & LESSA, A. 2003. Paleoepidemiology: is there a case to answer? Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 98, Suppl. 1:21-27.
SOUZA, S. M. F. M. DE; CARVALHO, D. M. & LESSA, A. 1995. Estresse, doença e adaptabilidade: estudo comparativo de dois grupos pré-históricos em perspectiva bio-cultural. Livro de Resumos da VIII Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Porto Alegre, Sociedade de Arqueologia Brasileira, pp. 50.
SOUZA, S. M. F. M. DE; CARVALHO, D. M. & LESSA, A. 1977. Análise paleopatológica de um cemitério indígena. Nheengatu: Revista Brasileira de Arqueologia e Indigenismo , Vol. 1, n. 2:7-38.
UBELAKER, D. H. 1999. Human Squeletal Remains Excavation, Analysis, Interpretation. Washington, Taraxacum.
UNESCO. 1970. Musées et Recherches sur le Terrain. Musées et monuments, v. XII, Paris :101–110.
WARWICK, R. & WILLIAMS, P. L. 1979. Gray Anatomia . Vol. 2. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Ivone Bezerra, Hilton P. Silva

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.